Marguerite Duras,
em seu romance O Amante subverte, ao mesmo tempo, dois gêneros da Literatura –
a autobiografia e o romance de formação.
Se por um
lado, somos levados a crer que estamos diante de um relato autobiográfico, ouvimos
uma voz logo no início da narrativa que afirma “A história da minha vida não
existe”. Mas esta não é a única voz do romance. Ao longo de suas páginas ouvimos
vozes distintas. Ora somos chamados a compartilhar experiências – “Na balsa,
olhem para mim, tenho ainda os cabelos compridos”; ora esta mesma voz toma as rédeas da narrativa
e perde-se em suas próprias lembranças. Outras vezes, ainda, torna-se
personagem dela mesma – “O corpo é franzino, quase mirrado, seios ainda de
criança, pintada de rosa pálido e vermelho”. Vamos, aos poucos, aprendendo a
escutar as vozes e os tempos que se intercalam continuamente. Em O Amante, passado,
presente e futuro se confundem e se distinguem apenas no instante da escrita e
que, por isto mesmo, desafia as regras da autobiografia.
Também somos
induzidos a pensar, não apenas pelo título do livro mas exatamente por
funcionar como fio condutor da narrativa, tratar-se de um história de iniciação
amorosa, da passagem da juventude à vida adulta – tal qual ocorre nos romances
de formação. Mas o livro é bem mais do que isso. Ele é isso também, mas acredito
a força do texto está muito mais na crítica severa que Duras faz ao sistema
colonial e seus efeitos nas sociedades e no interior da própria família.
Lá pelas
tantas lemos ”... aí está a parte mais profunda de nossa história em comum,
somos os três filhos dessa pessoa de boa fé, nossa mãe, assassinada pela
sociedade”. (página 47 da minha edição)
O amante (ou
o amor, se preferirem) simboliza a relação de dependência e assimétrica típicas
do colonialismo. Só há colono porque há colonizado, só há Colônia porque há
Império.
Para uma “branca”
de origem francesa a relação com a China é impossível - “Nos primeiros dias já sabíamos que uma vida
em comum não era possível.”
Há sim, no
romance, a perda da inocência mas esta refere-se, fundamentalmente, ao processo de conscientização dos mecanismos
da sociedade colonial. Não à toa, no primeiro encontro entre os amantes,
ouvimos: “Nunca mais eu viajaria num ônibus de nativos. Teria agora uma
limusine para levar-me ao liceu e trazer-me de volta ao pensionato. Jantaria
nos lugares mais elegantes da cidade. E para sempre teria saudades de tudo o
que fiz então, de tudo o que abandonei, de tudo o que aceitei, o bom e o mau...”
Mas a
crítica de Duras é ainda mais impiedosa uma vez que ela compreende que esta experiência
colonial na Indochina Francesa deixa marcas profundas, que se estendem por
gerações e gerações. Em algum momento na narrativa, ela diz ter encontrado uma
fotografia do filho, na Califórnia, vinte anos depois, rodeado de amigas e, ao
olhar para a foto, para o olhar do filho, ela imediatamente é lavada a
acreditar que esta foto poderia, realmente, ter sido feita anos antes, no Rio
Mekong.
Leitura feita a partir do Projeto Mulheres Modernistas do Fórum Entre Pontos e Vírgulas.
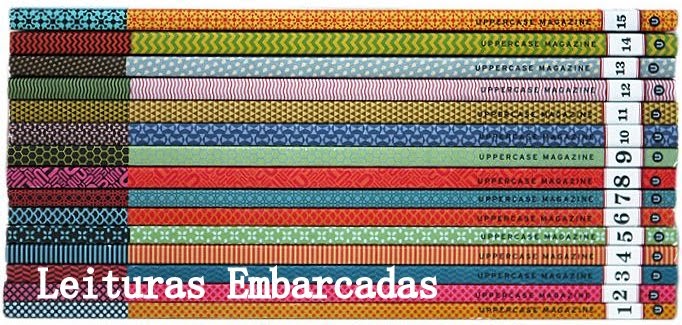

Oi, Lara! Já coloquei o link da sua resenha no post do Fórum. Você viu que a discussão já começou? Se quiser fazer algum comentário por lá, fiquei à vontade. Beijo! =)
ResponderExcluir